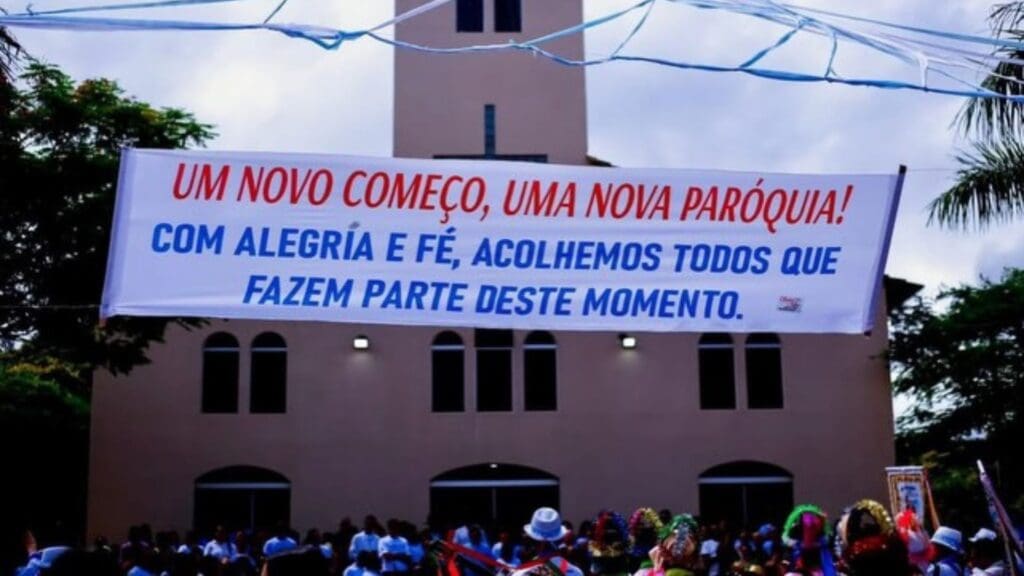Artigo de Mateus Alves Correia
Dizer de missão nem sempre é remeter ao ato de um presbítero ou religioso em saída para outro país, a fim de pregar o Evangelho aos que não possuem fé. Embora isso também se compreenda como ação missionária e mereça o seu devido mérito, a noção de missão é outra.
Com efeito, o movimento missionário desenvolvido do século XVI até o momento presente – encontrando seu ápice no Vaticano II e em documentos posteriores – partiu da visão trinitária para dizer de missão. A partir disso, missão não é uma ação humana – ao menos não em seu fundamento –, mas uma propriedade divina, isto é, a revelação que a Trindade dá ao mundo e a consequente salvação que ela oferece à criação.
Nessa perspectiva, o homem participa da missão de Cristo, o enviado do Pai, a fim de trazer a salvação, a verdade, o amor e a unidade ao mundo. O missionário é aquele que, configurado a Cristo, corresponde à sua vontade: “que todos sejam um” (Jo 17,21).
Sabendo que a vontade de Deus é “congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos” (Jo 17,52), o Catecismo da Igreja Católica reconhece que “a missão da Igreja requer um esforço em ordem à unidade dos cristãos” (CIC 855), tendo em vista o princípio de catolicidade (universalidade), o qual busca cumprir. E a Igreja cumpre tal missão porque recebe de Cristo a missão de reunir aqueles que se encontram afastados.
Nessa mesma dinâmica de integração, o Catecismo ainda reforça: “a tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com aqueles que ainda não aceitam o Evangelho. Os crentes podem tirar proveito para si mesmos deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e graça se encontrava já entre os povos, como que por uma secreta presença de Deus” (CIC 856).
Desse modo, a Igreja compreende o seu dever não somente entre os seus próprios fiéis, mas com os cristãos que, mesmo batizados, encontram-se em um seguimento diferente e, ainda, com aqueles que sequer confessam a fé cristã.
Longe de ser uma renúncia aos valores próprios, deve-se lembrar da própria missão de Jesus, que se deu não só entre os judeus, mas entre samaritanos e pagãos com quais ele se encontrava. A missão configura-se aqui como adesão tamanha à fé que, compreendendo o caráter relacional da Trindade no amor aos homens, transmite-se também aos seus filhos num amor respeitoso e dialogal.
Consciente de que a unidade é um fator intrínseco à missão, São Paulo VI diz que “os homens constituem todos uma só comunidade; todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro gênero humano” (NA 1). “Não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens, criados à Sua imagem” (NA 5).
Compreendendo que a unidade, antes de partir de nós, é da essência do próprio Deus entre as Três Pessoas e na relação com a humanidade, é certo que toda a relação que leva à unidade não é uma opção, mas uma necessidade que Deus imprime na alma do batizado. E é despojando-se de e abrindo-se ao outro que o homem se encontra: “Para tornar-me eu mesmo, preciso deixar de ser o que sempre pensei que queria ser; para encontrar a mim mesmo, tenho que sair de mim; e, para viver, tenho que morrer” (MERTON, Novas Sementes de Contemplação, p. 56).
A dinâmica de buscar a unidade parte também da noção de um Deus fragmentado. Como um vitral ou um mosaico que só exprimem o belo quando as partes estão unidas e em harmonia, assim também deve ser a disposição dos católicos, dos cristãos e, enfim, de todo o gênero humano. E, cada um – ao seu modo próprio de ser, crer e viver – faz desses fragmentos da presença de Deus a grande arte de Deus no mundo, a sua manifestação.
É claro que, com isso, o catolicismo não deve perder a sua essência e convicção, pois “existe uma ordem ou ‘hierarquia’ das verdades da doutrina católica” (UR 25), devendo expor com clareza a doutrina e a ela sendo fiel. E é a partir dessa consciência doutrinária que a Igreja deve dialogar, pois compreende que o amor – que une a Trindade e a nós é destinada pela missão de Cristo – deve ser continuada pelos que, pelo batismo, são configurados ao Filho. E estar unido a ele infere perceber a sua ação naqueles lugares em que há “um raio da verdade que ilumina todos os homens.” (NA 2).
Nessa empreita de buscar a unidade, deve o cristão dispor-se da presunção de possuir Deus por completo e assumir como Thomas Merton: “Tenho que procurar minha identidade não só em Deus, mas, de algum modo, também nos outros. Jamais poderei me encontrar se me isolar dos demais como se eu fosse uma espécie diferente de ser” (MERTON, Novas Sementes de Contemplação, p. 59). Isso mostra que quanto mais se cresce na intimidade com Deus, maior deve ser a humildade do crente em reconhecer-se possuidor de um fragmento de Deus, para que, assim, se lance à experiência do fragmento de Deus que há no outro.
Mas o mundo encontra-se na dor da desunião. Guerra, violência, intolerância, instrumentalização da religião. A desunião fere de morte a humanidade. Todavia, ainda cabe, diante do perigo iminente da ferida, escolher a cura: “os homens podem fazer duas coisas em relação à dor da desunião. Podem amar ou podem odiar” (MERTON, Novas Sementes…, p. 77). O mundo já percebe o efeito do ódio. Resta, agora, experimentar em Cristo, os efeitos da unidade no amor.
REFERÊNCIAS
BÍBLIA DE JESUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2002.
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html. Acesso em 04/10/2022.
JOÃO PAULO II. Unitatis Redintegratio: sobre o ecumenismo. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_po.html. Acesso em: 04/10/2022.
MERTON, Thomas. Novas sementes de contemplação. Petrópolis: Vozes, 2017.
PAULO VI. Nostra Aetate: sobre a Igreja e as religiões não-cristãs. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html. Acesso em 04/10/2022.